4 de março de 2001. O pilar 4 da Ponte Hintze Ribeiro colapsa. Um autocarro e três viaturas circulavam sobre o asfalto. Morriam 59 pessoas. E, afinal, quais foram as verdadeiras causas da tragédia que ainda hoje assombra a memória de Portugal? Terão sido, de facto, as cheias, tal como acabou por ser deliberado em tribunal? Ou terá havido realmente negligência por parte do Estado?
20 anos após a queda, encontramo-nos com Manuel Ferreira, engenheiro e ex-arguido, para quem a memória do processo já se afigura longínqua. Apesar disso, as conclusões permanecem as mesmas. Os engenheiros, na altura, foram uma espécie de “bode expiatório”, quando, na opinião de muitos, quem devia ter marcado presença em tribunal seriam os areeiros. “Era aviltante como era feita a extração de areias. Abriram um canal para o Douro ser navegável e retiraram dez vezes mais para os barcos terem mais rentabilidade”, comenta o ex-arguido que, no dia 20 de outubro de 2006, foi ilibado de qualquer culpa pela queda da ponte.
Com esta desresponsabilização, fica o trago amargo de um final inconclusivo. Augusto Moreira, presidente da Associação dos Familiares da Vítima de Entre-os-Rios, afirma: “Nós sempre fomos críticos da decisão da juíza. Há uma responsabilidade das pessoas acusadas, havia uma responsabilidade a nível político, de técnicos, do ministério”. Horácio Moreira, fundador e antigo presidente da Associação, sente o mesmo. “Eu, na altura, como presidente da associação e como familiar, sempre entendi que não estavam ali os arguidos todos que deviam estar”. E acrescenta: “Sempre sentimos que outras pessoas deviam ter lá estado, nomeadamente os areeiros. Os vizinhos viram muitas vezes os barcos da extração de areias amarrados aos pilares da ponte”.
A polémica extração de areias
No entanto, apesar desta culpabilização dos extratores, Fernando Jorge, ex-presidente da Associação das Empresas de Dragagens do Norte (ADRAG), ligado ao negócio da extração de areias, ressalva que “foi feita uma investigação da parte da engenharia e da parte técnica” e garante que se “chegou à conclusão de que não havia nenhuma responsabilidade” da parte dos areeiros. Quanto à extração excessiva de areias, Fernando contrapõe. “As extrações eram controladas, feitas de acordo com o que estava contratualizado”, apesar de também confessar a existência de “alguns erros, algumas falhas”, ao afirmar que as regulações em anos anteriores não eram tão apuradas como as que se fazem hoje.
Na tese Um Estado Longe Demais, Pedro Araújo escreve, em tom de conclusão: “O colapso da ponte resultou de um ato humano — ou do acumular de atos humanos ou do acumular de uma ausência de atos humanos”. No final, a culpa foi atribuída às cheias. “A opinião dos peritos da FEUP (Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto) foi que aquilo foi excecional, aquelas cheias foram excecionais”, conta Manuel Ferreira. Mas o argumento continua a não convencer sobretudo quem perdeu familiares. “As altas instâncias ficaram à margem do processo judicial, tal como os areeiros, que provavelmente deviam ter sido levados a julgamento”, vinca Augusto Moreira.
Um problema identificado
A ponte e as suas fragilidades não foram assuntos que surgiram subitamente aquando da queda. A Ponte Hintze Ribeiro fora aberta ao tráfego em setembro de 1888 pelo engenheiro Luciano de Carvalho. Em 1919, a ponte fora dinamitada, verificando-se danos num dos pilares e no tramo extremo do tabuleiro, junto da margem esquerda. A reparação foi iniciada em março de 1928. No ano de 1986, a ponte acusava os primeiros indícios de mau estado, confirmando-se que o pilar que viria a cair não reunia as condições de segurança necessárias. Em janeiro de 2001, dois meses antes da queda da ponte, realizava-se uma inspeção visual à ponte pelo engenheiro Manuel Ferreira, na qual apenas foram indicados buracos no pavimento e alguns problemas pequenos de conservação.
Manuel Ferreira recorda a inspeção: “Fui lá, vi a ponte, e depois elaborei uma informação em que dizia que estava tudo bem, mas que os passeios iam novamente ser derrubados, porque na ponte só circulava um carro de cada vez. Assim, a única solução era alargá-la”, constata. “Disseram que se devia fazer obras de conservação e pintar a ponte. A pintura nunca foi feita”. Por seu turno, Augusto Moreira duvida da forma como eram realizadas as inspeções.
O colapso da ponte ter-se-á devido à queda do pilar número 4. A Comissão de Inquérito Ministerial chegou à conclusão de que um dos pilares “caiu segundo um movimento de rotação em torno da base de fundação do caixão, de forma tal que os deslocamentos se processaram no sentido de jusante para montante e no sentido da margem esquerda para a margem direita”.
Manuel Ferreira recorda que a análise que fez “não detetou a profundidade do pilar. Quando eu comecei o meu trabalho de engenheiro, as areias do pilar tinham 21 metros, na altura da queda, tinham 10”.
O aviso de uma tragédia
Na tese Um Estado Longe Demais, Pedro Araújo relembra que, já em 1983, o Jornal de Notícias alertava para a “extração desenfreada de areias” em Entre-os-Rios, uma prática que acusam de deixar “desprotegidos” os pilares da ponte, sujeitos a uma “erosão deveras preocupante”. Em 1990, era dado o alerta por um técnico da Direção de Serviços de Pontes em relação à “extração de grande quantidade de inertes” que quando transportados de forma incorreta comprometiam o pavimento e a drenagem da ponte. Em 2001, a população local chegara mesmo a organizar uma manifestação, alertando para a necessidade de vistoria e obras na ponte. Cerca de dois anos antes do dia fatídico, o Presidente da Câmara de Castelo de Paiva, Paulo Teixeira, declarava à comunicação social: “Esperamos que não seja necessária uma tragédia para que se construa uma nova ponte”.
Um novo alerta
Em 2015, o presidente da Câmara de Castelo de Paiva, Gonçalo Rocha, alertava a Infraestuturas de Portugal (IP) para a existência de uma fissura no tabuleiro da nova ponte, construída, à data, há 10 anos.
Na altura, em resposta, a empresa pública emitiu um comunicado no qual se pode ler que estas são fissuras “recorrentes e até mesmo naturais neste tipo de estruturas” mas que “não representam qualquer risco para a estabilidade e condições de segurança na utilização da mesma”.
Hoje, contactada, a Infraestruturas de Portugal diz que “não se confirma a existência de fissuras” em nenhuma das duas pontes daquela zona. Segundo o protocolo da empresa, as inspeções periódicas principais e de rotina são feitas a cada seis e dois anos, respetivamente. Relativamente às duas pontes que ligam os concelhos de Castelo de Paiva e Entre-os-Rios, ambas “foram objeto de uma Inspeção Principal Global em 2015 e de uma Inspeção Principal Subaquática em 2017 e 2019”, conta a mesma fonte oficial da IP. Assim, as obras de engenharia foram classificadas como estando em “Estado de Conservação Regular”.
Segundo Mychael Lourenço, engenheiro civil, “a corrosão e a existência de fissuras de origem mecânica constituem as formas mais comuns de patologias em estruturas de obras-de-arte, sendo necessários cuidados especiais no sentido da prevenção e reabilitação das mesmas”.
Segundo a IP, estes cuidados estão garantidos.
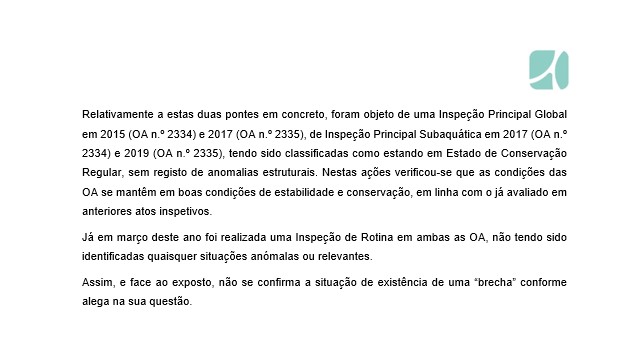
Longe dos holofotes, as lições
Horácio Moreira acredita que a tragédia “serviu para uma fiscalização mais forte das outras pontes”. Augusto Moreira subscreve esta visão, declarando que a queda “alertou para a realidade do Interior”. Um Interior esquecido, que não tem “o mesmo peso”, segundo Augusto, que as áreas metropolitanas. Roque Amaro, professor de Economia do ISCTE, enfatiza que, “em regra geral, todas as componentes do Interior acabam por ser avaliadas incorretamente”, explicando que foi o que aconteceu na ponte, onde houve uma situação clara de “negligência”. A ponte não “mereceu a atenção que mereceria se estivesse nas zonas de holofotes da economia”.
20 anos depois, permanece no ar a incerteza e o sentimento de desresponsabilização. “Não foi feita justiça neste processo”, afirma Augusto Moreira com veemência.





